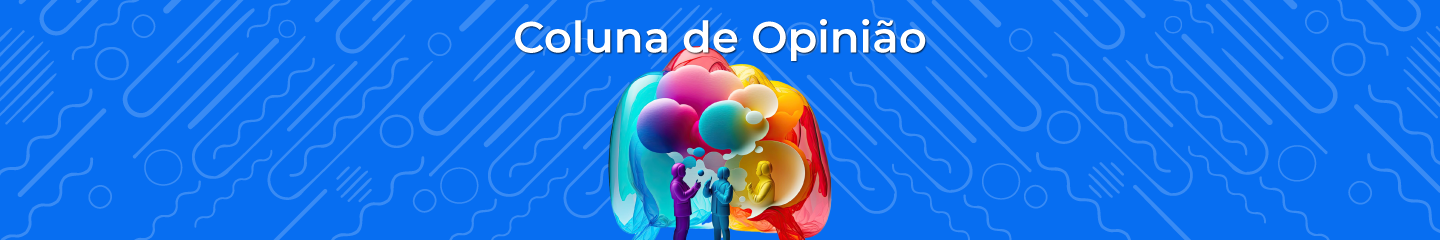Num cenário económico global cada vez mais interligado, as decisões económicas dos Estados Unidos continuam a influenciar diretamente a dinâmica de consumo, comércio internacional e investimentos. Uma das mais recentes frentes de tensão prende-se com a imposição de tarifas sobre produtos importados, especialmente vindos da China, mas com repercussões globais.
Depois de ler o artigo da Hotchay sobre a venda que a China está a fazer de parte da dívida dos Estados Unidos da América (ver aqui), estive a debruçar-me sobre a conjectura que poucos falam de forma mais profunda.
Vamos simular que estamos numa aula de economia política em que se foca também nas relações externas, mas onde a importância da observância dos ciclos históricos que conhecemos farão toda a diferença. Olhemos para o passado para compreender o presente e tentar evitar males maiores no futuro.
Na lógica das tarifas e o comportamento do consumidor, pagar mais caro por bens importados leva, em regra, à redução do consumo desses mesmos bens. O consumidor médio, confrontado com preços mais elevados, tende a reduzir o volume de compras, a procurar alternativas nacionais ou simplesmente a consumir menos.
Esse comportamento afeta diretamente as cadeias de fornecimento globais e os países exportadores. Num mundo onde os EUA figuram como principal parceiro comercial de dezenas de países, qualquer retração do consumo americano tem repercussões globais. Países que antes viam nos EUA um mercado estável para os seus produtos veem agora uma procura menor — o que impacta diretamente o seu crescimento económico.
O caso Apple e a pressão sobre as margens ilustram bem esta tensão. A gigante tecnológica americana fabrica grande parte dos seus produtos na China, mas o seu maior mercado consumidor continua a ser interno. Com tarifas adicionais sobre bens chineses, a empresa de Cupertino tem dois caminhos: repassar os custos para os consumidores — arriscando uma quebra nas vendas e desvalorização das ações — ou absorver parte do aumento de custos, o que pressiona as suas margens de lucro. Em qualquer dos casos, há um impacto direto no desempenho financeiro.
Paralelamente, se observarmos a automação e a possível relocalização industrial, os avanços da tecnologia e da automação permitem às empresas operar com menos mão de obra. Nos últimos anos, muitas fábricas americanas transferiram operações para países com custos mais baixos. Porém, num cenário de tarifas elevadas, importar torna-se menos viável, e relocalizar a produção para solo americano surge como uma alternativa. Embora isso implique a criação de emprego — maioritariamente pouco qualificado — representa também um esforço de reindustrialização com custos substanciais.
A pressão da dívida pública americana é um fator central neste equilíbrio delicado. Com cerca de 23 biliões (trilhões) de dólares a vencer nos próximos anos, e uma taxa de juro média a 3,3%, o custo de refinanciamento torna-se cada vez mais expressivo com os atuais juros a 4,3%. Essa diferença de um ponto percentual representa 280 mil milhões de dólares por ano — mais do que o orçamento militar anual da China.
Diante desse panorama, surge a tentação de reduzir artificialmente a taxa de juro. Uma das formas de o fazer é provocar uma recessão — reduzindo o consumo, desacelerando a economia e, consequentemente, a inflação. Uma inflação mais baixa abre espaço para cortes nas taxas diretoras.
A estratégia Trump sobre a dívida, a indústria e os juros poderá estar na mesa. O Presidente dos Estados Unidos da América, que tem sido crítico vocal da atuação da Reserva Federal, pressionando pela redução das taxas de juro, aparenta uma visão que combina objetivos económicos e eleitorais: relocalizar a indústria, reduzir a inflação e aliviar o custo da dívida pública. Embora polémica, essa estratégia não parece abrandá-lo.
Porém, o resto do mundo não está parado. Vários países lutam pelo mesmo espaço industrial e tecnológico, e a narrativa de tarifas recíprocas nem sempre poderá refletir a realidade. Exemplo disso é o Brasil, que, apesar de relações diplomáticas frias com os EUA, viu-se apenas parcialmente afetado com uma tarifa de 10%. Concorrentes diretos do Brasil no agroalimentar, como o México ou a África do Sul, sofreram tarifações mais severas.
Se observarmos Angola decidiu restringir as importações de carne bovina, suína e de aves a partir de julho de 2025, alegando que já possui condições internas para produzir esses alimentos. Esta medida visa fortalecer a produção nacional e reduzir a dependência de bens alimentares do exterior. Em resposta, os Estados Unidos, cujos exportadores são particularmente afetados classificaram a decisão como uma prática comercial desleal.
E olhemos para a realidade ... Angola é o seu maior mercado africano [representa para os EUA 136 milhões de dólares (124,17 milhões de euros)] e o 9.º maior mercado para exportações de aves dos EUA no mundo, para a carne de aves norte-americanas.
O episódio ilustra bem a atual dinâmica do comércio internacional, onde vários países, de forma mais ou menos explícita, estão a reavaliar as suas cadeias de abastecimento e a favorecer a produção interna. Enquanto os EUA impõem tarifas para proteger os seus produtores, como fez recentemente ao taxar produtos de dezenas de países, Angola atua do lado oposto da balança, limitando importações para fomentar a sua indústria local.
Ambos os movimentos refletem uma tendência global: o reforço da soberania produtiva e a tentativa de relocalizar setores estratégicos, seja por questões económicas, sociais ou geopolíticas.
Existem apesar das tensões, portanto, oportunidades e riscos na nova ordem global. A cadeia global de fornecimento está em reorganização, e alguns setores poderão beneficiar. Os empresários atentos poderão encontrar novos mercados e ajustar as suas estratégias de investimento. Países como Angola, Brasil e Portugal também poderão beneficiar de um abrandamento nas taxas de juro, caso o ciclo económico global mude.
A recente reação morna da China às tarifas adicionais impostas pelos EUA indica que a guerra comercial poderá prolongar-se, com novos capítulos imprevisíveis. A complexidade das relações comerciais é evidente em acordos como o Information Technology Agreement (ITA), que une EUA, Europa e Japão sob a lógica da tarifa zero para produtos tecnológicos, mas teremos de ver o que acontecerá neste quesito. A imposição de tarifas fora destes acordos poderá ter impacto no CAPEX (Capital Expenditure), ou seja, os investimentos em bens de capital como fábricas, máquinas e equipamentos — essenciais para o crescimento económico sustentado.
Por detrás destas decisões económicas, há também um imperativo de comunicação política, da importância da comunicação e da estabilidade social. As desigualdades sociais, muitas vezes agravadas por políticas económicas mal explicadas, podem gerar contestação. A comunicação eficaz torna-se, assim, parte do processo de desenvolvimento. É fundamental que os governos expliquem o porquê de determinadas medidas e os seus efeitos no médio e longo prazo, evitando a falsa ilusão de soluções imediatas.
O mundo assiste a uma formação de novas alianças, de uma nova geopolítica económica. A aproximação entre China, Coreia do Sul e Japão, ou o reforço das relações entre Canadá e China no setor energético, mostram que a tradicional hegemonia americana está a ser desafiada por uma nova teia de interesses.
Ser uma superpotência é dispendioso. O exemplo do Império Romano, ou a comparação entre países com ambições expansionistas e os que optam pela neutralidade — como a Suíça —, levanta uma questão: será que os EUA estarão a prepar-ses para recentrar o seu foco no desenvolvimento interno?
O desafio do equilíbrio, as tarifas, a dívida, a taxa de juro e a reindustrialização são peças de um tabuleiro económico global cada vez mais complexo.
O termo "ceteris paribus", frequentemente usado por juristas e economistas para significar “mantendo-se as demais variáveis constantes”, revela-se aqui de difícil aplicação. No mundo real, as variáveis mudam constantemente, e o objetivo final de cada medida — seja político, económico ou estratégico — nem sempre é claro ou imediato.
Conjecturas existem muitas. Certezas, muito poucas. Mas uma coisa é certa: os próximos anos exigirão atenção redobrada de governos, autarquias, empresas e cidadãos, num contexto onde as regras estão a ser reescritas em tempo real.